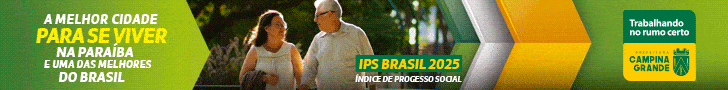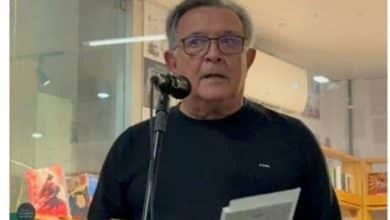O DECRETO DO SILÊNCIO: A CENSURA PRÉVIA NA DITADURA MILITAR
A censura a informações contrárias ao governo passou a existir desde os primeiros dias após o golpe de 1964. Mas foi apenas em janeiro de 1970 que ela foi oficialmente definida pelo Decreto-Lei nº 1.077, que ficou conhecido como Lei da Censura Prévia, pois tinha como objetivo regular e controlar veículos midiáticos, violando a liberdade de expressão. Popularmente, passou a ser chamado de “Decreto Leila Diniz”, porque foi publicado poucos meses depois de a atriz conceder ao jornal O Pasquim uma entrevista considerada escandalosa para os padrões da época, na qual falou abertamente sobre costumes, sexo e ainda utilizou dezenas de palavrões.
Assinado pelo general Emílio Garrastazu Médici, então presidente da República, já no primeiro artigo o decreto determinava: “Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação.” A partir daí, censores passaram a se instalar nas redações de jornais e revistas, com autoridade para decidir o que poderia ou não ser publicado. Cabia a eles identificar notícias que entendessem ferir os “bons costumes”. A mídia alternativa — como os jornais Opinião, Movimento e O Pasquim — era obrigada a enviar previamente seus textos à Divisão do Departamento de Polícia Federal, em Brasília, para análise e liberação.
Os meios de comunicação ficavam proibidos de divulgar qualquer informação considerada “incômoda” ao Planalto. O descumprimento da lei implicava em multa, além da obrigação de pagar pela incineração de todos os exemplares que contivessem matérias vetadas. Foi a forma encontrada pelos ditadores para impedir que veículos de imprensa investigassem denúncias de corrupção e publicassem críticas ao governo.
A censura, entretanto, não se limitou à imprensa. Escritores, artistas, cineastas, músicos e dramaturgos também tiveram suas obras total ou parcialmente vetadas por supostamente ferirem os princípios morais e políticos do regime. Músicos como Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil, Raul Seixas e Taiguara se tornaram alvos constantes. Livros de Rubem Fonseca, Érico Veríssimo, Jorge Amado e Maria da Conceição Tavares foram proibidos de circular. Filmes como Laranja Mecânica, Encouraçado Potemkin e Macunaíma tiveram sua exibição impedida.
Os jornais, numa estratégia de resistência silenciosa, preenchiam os espaços de matérias censuradas com receitas gastronômicas ou poemas, como forma de denunciar publicamente a ação da censura. A população, contudo, ficava privada de informações sobre os graves acontecimentos da época: perseguições a políticos de esquerda, estudantes, artistas e intelectuais; desrespeito sistemático aos direitos humanos; cassações de mandatos; denúncias de torturas e desaparecimentos; além de medidas governamentais que comprometeriam o futuro político, econômico e social do país. A imprensa, policiada e silenciada, apenas veiculava o que era conveniente ao governo.
Teoricamente, a censura à imprensa era justificada pela Doutrina de Segurança Nacional, ideologia-base do regime militar. Essa doutrina difundia a noção de que o Estado deveria combater o “inimigo interno” — identificado como o comunismo e seus simpatizantes — e, por isso, considerava legítimo censurar os meios de comunicação e as expressões culturais. O aparato repressivo utilizava práticas sigilosas e normas de exceção para calar vozes dissidentes e preservar a unidade do discurso oficial. A censura obedecia a ordens centralizadas, emanadas de um núcleo institucional solidamente estabelecido.
A censura prévia à imprensa só terminou oficialmente em 1988, com a promulgação da nova Constituição, símbolo da redemocratização nacional.
Rui Leitão